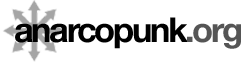* Retirado do livro Tesouras Para Todas, escrito por Las Afines (lasafines@hotmail.com)
* Retirado do livro Tesouras Para Todas, escrito por Las Afines (lasafines@hotmail.com)
[baixe o livro completo na sessão de downloads]
O discurso contra a violência sobre as mulheres forma parte implícita e também explícita do discurso político geral. A violência machista é rejeitada pelo conjunto da sociedade e todo mundo parece reconhecer que é um problema político de primeira ordem. Evidentemente também os movimentos sociais recolhem esses conceitos e mostram abertamente seu próprio discurso anti-sexista. Até aqui perfeito.
Vocês perguntarão por que estamos escrevendo este texto… nós nos perguntamos por que há tantas agressões dentro dos movimentos sociais e por que tanta incapacidade para gestioná-las coletivamente. Nos preocupa o nível de tolerância que há nos espaços políticos ante as agressões e a naturalização/normalização de certas formas de violência. Nos inquieta a incongruência entre discurso e prática e a falta absoluta de sensibilidade a respeito; o que demonstra que é um tema de quarta, se é que chega a considerar-se como tema. Nos enfurece que dentro dos movimentos sociais atuemos como se tivessemos acreditado que as questões que o feminismo levanta já foram assumidas por todxs e por tanto, já estão superadas e são repetitivas e desnecessárias. E ele continua, apesar das reivindicações básicas que têm mais de um quarto de século e ainda continuam no tinteiro, e de que nós, mulheres de todo o mundo, sofremos discriminação, abusos e controle de diversos caras que impedem a liberdade de expressão, pensamento, a liberdade sexual e o movimento. Não somente isso, no contexto de Barcelona há um retrocesso nas práticas coletivas e no discurso a respeito de um passado não tão distante, fato sintomático de que restam poucos grupos feministas, o que demonstra que, uma vez mais, eram apenas as mulheres as que se ocupavam da violência. Esse retrocesso nas práticas coletivas não é um problema de uns poucos casos de sempre, estamos falando de um problema estrutural e de uma questão de responsabilidade coletiva.
No entanto, existe uma grande resistência em identificar o óbvio, em qualificar como tal as múltiplas caras da violência contra as mulheres, assim como para detectar os casos que podem ser incluídos sob esse nome; esse é um mecanismo magnífico para empurrar a sujeira embaixo do tapete, do tipo “a violência é algo muito ruim, mas justamente isso não é violência”.
A violência estrutural contra as mulheres não é um conceito abstrato próprio dos livros, nem uma coisa da vida de outros, alheio a nosso micro-mundo nos movimentos sociais. A violência estrutural não são os quatro abusos concretos na boca do povo, nem a soma infinita de agressões que cada uma pode constatar ter sofrido. Tampouco são aquelas ações perpetradas por monstros que vêem e apunhalam. O iceberg não é apenas a ponta.
Estamos falando de pautas generalizadas de dominação que atravessam a experiência de ser mulher e todas as esferas da cotidianidade: as relações pessoais, a percepção e o uso do espaço público, o trabalho, a autoridade reconhecida, a percepção dos próprios direitos ou a ausência deles, a relação com o próprio corpo e a sexualidade, e mais um longo etcetera.
A violência estrutural é um mecanismo de controle sobre as mulheres, mas não apenas como forma extrema, ameaça de castigo onipresente que necessita ser provocada ou desencadeada, senão uma forma de relação normalizada e naturalizada e que portanto pode ser exercida sem a necessidade de justificação.
Mas não estamos fazendo uma dissertação teórica, falemos de casos concretos. No último ano houve, dentro dos movimentos sociais, numerosas agressões contra mulheres: agressões no seio da relação a dois, violência psicológica na convivência e agressões físicas e sexuais dentro de um espaço político…, e em nenhum caso o agressor recebeu resposta alguma. Em outro caso recente dentro do contexto político de Barcelona, uma mulher de nosso coletivo sofreu uma violação em sua própria casa por um habitante da mesma, que é um dentre tantos. O dito sujeito passeia tranquilamente durante a semana, alheio a qualquer movimento que pudesse estar se organizando em apoio a ela, pois – anjinho – nem sequer está consciente de ter feito qualquer coisa má… Mas ele tinha se equivocado. Ela quis fazê-lo público e propô-lo em um grande coletivo, com ele presente, propondo sua saída imediata. Não apenas porque o ocorrido é uma agressão contra ela, mas porque é uma questão política e coletiva de primeira ordem. E este coletivo toma a decisão de que dito sujeito deve sair da casa por uma questão coletiva e política.
Nós valoramos positivamente uma coisa, e é que faz muito, muito tempo que não víamos uma mulher reagir assim, nem um coletivo, tendo em conta as dificuldades e os obstáculos que habitual e sistematicamente encontramos para gestionar grupalmente essas situações. No começo, nos sentimos muito satisfeitas de que essa agressão não tivesse sido silenciada como tantas outras e tivera uma resposta. Neste sentido, este caso é uma exceção. Contudo, a partir daí sucederam-se muitas coisas, mudanças de discurso, de posições e decisões. Com o passar do tempo, o que a princípio foi considerado político terminou relegado ao terreno dos conflitos pessoais. Sete meses depois, se tomou a decisão de que o sujeito regressasse aos espaços públicos da casa, que funcionam como centro social. Mas além desta decisão questionável, o que nos parece grave é o processo pelo qual se chega a este resultado, definitivamente semelhante a tantos outros.
Que os grupos (mesmo que seja uma minoria) tratem de buscar uma resposta ante os casos de violência que se produzem em seu seio supõe um passo adiante na reflexão, na gestão coletiva e na erradicação da violência. Mas notamos que em linhas gerais, e por conta da falta de profundidade e sensibilidade a que nos referíamos, as respostas que os coletivos costumam dar, em nosso entender, nem se aproximam aos mínimos exigíveis, e muitas vezes sofrem de alguns problemas de base que desvirtuam o processo. Falaremos aqui de três deles que nos parecem particularmente graves:
- O primeiro, mais recorrente e mais influenciado pelo trato mainstream da matéria, é dar aos casos de violência contra as mulheres um trato de problema privado e pessoal, a ser resolvido entre dois. Quando o que é denunciado como agressão é afrontado como uma questão pessoal onde intervém emoções, o que se entende como um assunto turvo onde não há uma verdade, senão duas experiências muito distintas de uma mesma situação confusa, etc., então, perdemos a possibilidade de intervir politicamente, que é do que afinal se trata quando falamos de violência machista.
Há inclusive formas de transladar o assunto a um plano pessoal dentro de uma gestão coletiva. Por exemplo, quando se propõe qualquer trabalho do coletivo como feito por e para a “vítima”, ao invés de uma tarefa que o coletivo necessita para si; quando a intervenção do grupo se propõe como uma forma de mediação entre as “partes afetadas”; ou quando se define o problema como um assunto particular do coletivo a ser resolvido de portas fechadas, que é o mesmo, a versão grupal do roupa suja se lava casa. Ou seja, coletivizar não é condição suficiente para fazer política.
Quando tomamos decisões ou posicionamentos políticos, sempre há a possibilidade de receber críticas e entrar em discussões. De fato são muitos os debates que continuam abertos dentro dos movimentos sociais em Barcelona. Mas acontece que diante das situações de gestão coletiva de violência contra mulheres, se levantam muralhas contra as opiniões, críticas e propostas externas; se tenta manter a todo custo fora do debate coletivo. O que é que acontece? Por que tanto medo do debate? Não será fobia doentia às feministas? Ou é que nem sequer lhe estamos dando a categoria de assunto político?
- O segundo problema da gestão dos coletivos não feministas dos casos de violência contra as mulheres consiste em trabalhar a partir do enganoso esquema vítima-agressor, próprio de best-sellers. De acordo com esse esquema, há um agressor, que é o homem mal, o monstro, a exceção; e uma vítima, que necessita auxílio. Quando o que tem que ocupar o primeiro papel é um colega ou companheiro, temos muitos problemas para lhe “pôr a etiqueta”, e medo de “demonizá-lo”, porque além de tudo esse esquema se apresenta como um juízo integral sobre a pessoa. Mas, chamemos as coisas pelo seu nome: agressão é o que descreve o fato, agressor é o que a comete. Fazer isso não deveria ser um obstáculo invencível nem tampouco uma opção reducionista que negue outras facetas que possa ter uma pessoa. Os eufemismos e relativismos são um atalho linguístico para que o entorno do agressor e ele mesmo se sintam mais cômodos com o relato dos fatos, mas por isso mesmo não ajuda a mudar nem a realidade da convivência nem a consciência a respeito dos acontecimentos.
Pelo medo de chamar as coisas pelo seu nome, pretendemos encontrar “outras explicações” ou inclusive justificações, do tipo “estava bêbado/drogado”, “ela estava se insinuando, ou o estava buscando”, e também a questionar o grau de responsabilidade do agressor sobre seus atos, e mais um longo etcétera. Como consequência da inoperância do esquema, costumamos nos perder em juízos pormenorizados dos sucessos, como se aí residisse a solução. Se transporta a discussão a fatores externos ou a detalhes minúsculos dos fatos ao invés de abordá-lo a partir da compreensão do estrutural da violência contra as mulheres e a necessidade de conservar uma tensão e atenção constantes para não reproduzí-la. Se não, por que, quando o caso concreto nos toca de perto, os princípios que em outras circunstâncias seriam inquestionáveis se desvanecem?
O segundo papel dentro desse esquema se atribui a mulher agredida, situando-a em uma posição de incapacidade: tudo que diga ou faça a “vítima” será lido como reação emocional, nervosismo, impulsividade e defensiva. As atitudes paternalistas e protecionistas com a que ocupa o papel de vítima obstaculizam sua participação em plano de igualdade no processo coletivo.
Então, reconhecer a estruturalidade da violência machista é começar a criar as condições necessárias para evitá-as, e em último lugar responsabilizar-nos quando acontece em nosso entorno. Mas geralmente isso não se dá porque assumir essa responsabilidade é abrir a porta à possibilidade de nos reconhecermos nos sapatos do agressor, o que dá pé a lamentáveis estratégias de corporativismo masculino, nos quais os companheiros guardam silêncio por medo que suas cabeças rolem junto à dos que estão sendo assinalados abertamente no momento.
- Por último, na prática da gestão coletiva de agressões contra mulheres encontramos uma hierarquização tácita de interesses, e em consequência uma subestimação de tudo que se refere a nós. Quando o que se prioriza acima de tudo é o consenso, em um grupo onde mais da metade não tem sequer uma reflexão própria prévia e cujo discurso passa por simplificações pré-cozidas próprias de qualquer telejornal, acrescido o fato dessas opiniões serem colocadas na mesma altura que discursos fundamentados e sensibilidades desenvolvidas a partir de um trabalho prévio, então, nos deixamos arrastar pela tirania do medíocre, que conseguirá desvirtuar os argumentos e rebaixar o discurso a um nível de mínimos. Enfileirar palavras grandiloquentes não significa articular um pensamento elaborado.
Acontece que, para começar, só há uma decisão política possível, e é que o agressor desapareça de todos os espaços comuns, sem meios termos. Mas a priorização do consenso por medo ao conflito também implica que, ante o desafio de tomar uma posição política como coletivo, não haverá lugar para distintas posturas que são irreconciliáveis e excludentes entre si ao redor dessa decisão, por muito bem ou mal argumentadas que estejam. Tentar torna-las consensuais nos leva irremediavelmente a pontos mortos de estancamento sem poder chegar sequer a esses mínimos.
O consenso aqui exposto cumpre duas funções: manter certa coesão no grupo e dar uma ilusão de legitimidade às decisões. Diante do risco de conflito se agudizam os papéis de gênero pré-estabelecidos, que para as mulheres significa cumprir o papel de mediar, pacificar, compreender. Paradoxalmente nos deparamos com o fato de que outras mulheres atuam priorizando a unidade do coletivo e o consenso medíocre, como se a agressão a uma de nós não fosse em realidade problema de todas. Isso, por outro lado, denuncia o enraizamento das formas heteronormativas em nosso fazer: a definição do que é público e político se faz de acordo com os cânones do universal masculino, e assim nós, mulheres, assumimos discursos construídos neste marco e postos no centro sob essa lógica e deixamos de politizar questões que nos afetam para não incomodar ou chamar atenção, perpetuando a necessidade de aprovação do olhar masculino e as formas de relação entre sexos. Outra vez nos venderam o peixe e nos dedicamos a cooperar para que nada mude. Definitivamente, que vamos fazer ao respeito de todo o exposto? O pior do sexismo se reproduz nos movimentos sociais, mas não estamos assumindo as responsabilidades coletivas para fazer uma gestão adequada da violência de gênero. Como vêm dizendo as feministas há décadas, é necessário fazer políticas as questões que afetam a nós, mulheres, e não só palavreado ou observação. Se apostamos pelos coletivos mistos, coloquemos ditas questões no centro dando a elas a importância que têm. E é evidente, pois, a necessidade de espaços não mistos e coletivos feministas, assim como de recolher o trabalho e as contribuições que esses grupos vêm fazendo.
Para finalizar, os coletivos que assumem gestionar uma situação de violência de gênero deverão fazer públicos seus posicionamientos e permitir o debate para que sirva de precedente e que assim se produza uma acumulação de experiências (não termos que partir sempre de zero). Do contrário, estamos privatizando e praticando pseudo política de auto consumo.