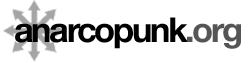escrito por Barbara Biglia e Conchi San Martin
escrito por Barbara Biglia e Conchi San Martin
retirado do livro Tesouras para Todas, e originalmente publicado em “Estado de Wonderber” – Entretecendo narrações feministas sobre as violências de gênero, Vírus ed.
O imaginário criado em torno dos maltratadores se constitui como um mito que os mostra como seres irascíveis, toscos, com problemas de drogas ou álcool, de baixo nível educativo, ignorantes, violentos, sem habilidades sociais, transtornados, fracassados e/ou que receberam maus-tratos quando crianças: sujeitos mais além da bem-pensante normalidade. Sendo assim, as mulheres que iniciam uma relação com eles deveriam saber ou pelo menos intuir o que vão ter que aguentar e, portanto, poderiam se considerar parcialmente responsáveis de seus próprios maus-tratos.
O trabalho de associações de ajuda mútua e de grupos feministas de diferentes partes do planeta conseguiram, em geral, desmascarar esta visão. Graças a isso, hoje em dia, manter esta caracterização do maltratador nas análises teóricas ou políticas é mal visto e pode ser lido como sinônimo de ignorância e atraso cultural. No entanto, esta imagem segue persistindo, constituindo-se numa realidade que circula no cotidiano. Isto faz com que, por exemplo, quando descobrimos que alguém conhecido e respeitado maltratou sua companheira, quase instantaneamente nos surge a necessidade de justificar, explicar…, de nos tranquilizarmos pensando que foi talvez um lapso de loucura o que pode tê-lo levado a perder o controle, que a agredida, de alguma forma, desencadeou a ira ou não soube prever a reação…
A apresentação das notícias de maus-tratos pelos meios de comunicação quase sempre é acompanhada de declarações de vizinhxs que oferecem uma mesma visão: ninguém poderia suspeitar do agressor, pois se tratava de uma pessoa agradável, trabalhadora, simpática, educada, respeitável, e toda uma grande série de epítetos para definir um sujeito “perfeitamente normal” que, inexplicavelmente, ficou doente. A incredulidade e surpresa destas declarações mostra como, mesmo que as investigações tenham demonstrado com clareza que não existem padrões que unificam os maltratadores, no dia a dia resistimos em acreditar na realidade e mantemos o imaginário do monstro e da mulher desamparada.
Contemporaneamente, desdes os âmbitos politizados, sejam partidos ou grupos de esquerda ou movimentos sociais (MS), aparece outro imaginário muito pouco analisado: acreditar que no fundo os maltratadores são uns reacionários e suas companheiras mulheres fracas e sem apoio social. Isso quer dizer que, em âmbitos ativistas e/ou de extrema esquerda, nos quais a igualdade de gênero é teoricamente desejada e levada à prática (sobre a persistência das discriminações nestes âmbitos: Biglia, 2003; Alfama, Miró, 2005), nos sintamos de algum modo imunes ou protegidas. Infelizmente, a raiz de nossa experiência pessoal, de anos de debates em coletivos de feministas autônomas de diferentes partes do mundo, assim como de conversas e encontros informais com amigas/ativistas, nos deparamos com a falsidade completa deste mito. Também apontam nesse sentido as informações recolhidas na tese de Barbara: 17,9% de ativistas de movimentos sociais que responderam um questionário em rede afirmavam que nos espaços do movimento se verificam episódios de abuso (de forma não isolada ou em situações de bebedeira) e outro 26,4% afirmava que situações deste tipo se produzem em casos isolados ou por parte de gente de um entorno maior (Biglia, 2005). Outra confirmação encontramos na declaração de ativistas chilenas que denunciam como alguns companheiros da guerrilha antipinochetista descarregam hoje sua agressividade martirizando suas companheiras: “Creio que o homem no tempo da ditadura foi sumamente combativo e que durante a ditadura o problema era Pinochet e todo seu aparato repressivo; além disso, no tempo da ditadura aqui no Chile, como não havia outros problemas, como que o único problema era Pinochet e o produto de Pinochet era a pobreza, as demissões (ainda que não se falasse) e este tipo de coisas, sabe. E chega a democracia e tu te dás conta de que um excelente dirigente é uma merda em sua casa, bate na sua mulher, abusa sexualmente dos filhos.”[1] Os exemplos poderiam ser muitos e todos tristemente idênticos entre si. Acreditamos que os motivos que levam alguns ativistas a ser violentos com suas companheiras são os mesmos que se dão em outros âmbitos; assim que não nos interessa de modo particular o que passa na cabeça destes “supermilitantes” maltratadores nem tampouco como podem viver em contradição com uma atitude pública perfeitamente politicamente correta e uma realidade de violência privada impressionante. O que sim podemos começar a investigar são as características peculiares de implementação e justificação destas situações, pois acreditamos que a possibilidade de que estas ações continuem, e com frequência impunemente, é responsabilidade de todas nós. Como sublinha num comunicado a Assemblea delle Compane Femministe di Roma (2000) – em resposta a um abuso sexual e que, a nosso ver, poderia facilmente ser ampliado a qualquer situação de violência de gênero e/ou abuso -: “Não apenas é cúmplice quem defende explicitamente o violador como também quem, homem ou mulher, fomentando dúvidas, espalhando vozes, deslegitimando a palavra das mulheres, cria um clima no qual os violadores seguem mantendo a liberdade de transitarem tranquilos pela cidade.” Cúmplice é também quem, em nome da “razão do Estado” e da prioridade da política, deixa intactas e inalteradas as condições, os lugares, as dinâmicas nas quais a violação ocorreu. Cúmplice é também quem transforma a violação ocorrida atrás dos muros domésticos em uma simples “falta de tato” de um homem sobre uma mulher, particularmente sensível, na regra de um âmbito privado onde qualquer limite está suspenso.
Neste contexto, a segunda afirmação resulta particularmente relevante enquanto mostra como, todavia, custa enormemente que a luta, na teoria e na prática, contra as discriminações e violências de gênero se considere na agenda dos movimentos sociais como elemento político importante. Ao se situar ou serem situadas no supostamente privado das relações, adquirem um valor subsidiário frente à política dos espaços públicos.
Um elemento, como muitos, a ser tratado pelas “feministas”, como diz Micaela (Espanha)[2]: “quando tem um coletivo de mulheres […] tudo o que tem a ver com o sexismo se deixa nas mãos do coletivo […] e o resto do mundo não tem que se preocupar com nada porque elas já o farão. Então para as pessoas que se importam pouco com isso de sexismo e feminismo […] lhes convêm muito bem porque seu movimento tem uma imagem, ‘porque meu movimento também é feminista porque tem umas aqui para mostrá-la quando for preciso’, e o resto das coisas, então, ficam como antes.”
Portanto, nos interessa começar a pensar, sem ânimo de contestá-las de maneira definitiva, estas questões: por que é tão complicado darmo-nos conta dos maus-tratos que ocorrem ao nosso redor?, quais são as dinâmicas e processos que permitem impunemente manter uma dupla faceta de encantadores e maltratadores?, por que as mulheres feministas não são capazes de deixar estes caras e mostrar às demais a realidade de sua vida privada?, por que se elas começam a falar são poucas as que estão dispostas a escutá-las e acreditá-las? Escrevemos este texto sabendo das críticas e polêmicas que virão consigo, mas com a esperança de que estas simples reflexões sirvam de estímulo para o debate e como primeiro ponto de apoio para companheiras que estejam passando por esta experiência. Dedicamos, assim, estas linhas a todas aquelas que conseguiram sair de situações de violência de gênero, a todas as que as ajudaram e, claro, àquelas que ainda não conseguiram encontrar forças suficientes e apoio para fazê-lo.
O mito do macho e a coerção de grupo
[Como poderia um movimento?] “Mobilizar-se como uma força política transformadora se não começa interrogando-se sobre os valores e as normas internamente assumidas que podem legitimar a dominação e a desigualdade neutralizando “diferenças” particulares?” A. Brah, 2004
Em primeiro lugar, queremos remarcar como, desafortunadamente, ainda em muitos ambientes de ativismo o imaginário do “bom militante” toma um caráter quase caricaturesco em algumas figuras prototípicas (Subbuswamy y Patel, 2001). De uma parte, temos uma representação extremamente parecida com a que dão os meios de comunicação: “homem jovem branco com capuz negro com propensão à violência” (Alldred, 2000). Suas características seriam a força, a intrepidez, a decisão, a ousadia e, sobretudo, como diz Silvia (Itália)[3], a capacidade de esconder todas as suas possíveis contradições. Por outro lado, encontramos o tipo intelectual, que se mostra como alguém com uma boa bagagem de conhecimentos teóricos (ou pelo menos com facilidade para aparentá-los), uma forte capacidade de convicção, dotes organizativos e de mando, uma tendência à liderança. Mesmo que “este modelo” tenha atitudes mais sofisticadas, ele continua mantendo dotes de masculinidade clássica (Jorquera, neste volume); poderíamos dizer que enquanto os primeiros se aproximam mais da ideia normativizada de masculinidade de classe social baixa, estes últimos seriam mais parecidos aos machos aristocratas, mais refinados porém não menos perigosos em suas atitudes machistas.
Ao nosso entender, a assunção de ambos os papéis marcados nos canais da masculinidade normativizada pode desembocar em situações de maus-tratos, em sua vertente física ou mais intelectualizada. De maneira física, com surras ou tentativas de violações (ou adulações) – ocasionais ou contínuas. De maneira “invisível”, com a criação de relações de dependência, inferiorizando às companheiras e “fazendo-as crer” que sem eles elas não são absolutamente ninguém (para um depoimento neste sentido: Nopper, 2005).
Mas tem mais. As situações de maus-tratos podem ser de difícil reconhecimento quando seu “protagonista” não corresponde ao imaginário do maltratador; assim, por exemplo, nos mostra a campanha por parte da Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (www.avf.org), contra um professor universitário pró-feminista que segue exercendo sem problemas, apesar de várias denúncias de abuso a suas alunas e colaboradoras. Por outra parte, os grupos ativistas estão e/ou se sentem frequentemente ameaçados pelo que vem de fora e como estratégia de defesa tendem a buscar uma coesão interna que passa, com demasiada frequência, por uma identificação identitária e uma redução das possibilidades de colocar em dúvida qualquer dinâmica interna de discriminação (Apfelbaum, 1989; Biglia, 2003). Nessas circunstâncias pode ser que haja resistências a reconhecer a existência de maus-tratos por parte de um ativista enquanto ele poderia converter o grupo minorizado em alvo de críticas de outros espaços externos.
Provavelmente a este tipo de lógica responde, pelo menos em parte, o vergonhoso desenlace em torno do homicídio de Hélène Legotien por parte de Althusser (Rendueles, neste volume). Finalmente, o maltratador pode se amparar e se justificar em nome do perigo (real ou imaginário) que acarreta seu ativismo, da repressão que está recebendo, que recebeu (como no caso dos ativistas chilenos citados anteriormente) ou poderia receber, ou do estresse de sua posição de super-herói, etc.
Elementos utilizados para justificar seus ataques, para reivindicar/exigir um cuidado onicompreensivo (já que põe tanto de si na luta necessitam o “descanso do guerreiro”) ou, finalmente, para acusar (expressamente ou de maneira latente) de conivência com o sistema repressor àquelas mulheres que não queiram lhes prestar estes serviços, se queixem dos maus tratos ou tentem denunciar a situação. Digamos que o maltratador encontra razões para suas justificações, mas o que ocorre com o entorno? Como se percebem estas dinâmicas? Este testemunho, coletado pelas autoras em uma conversa privada com uma companheira e amiga (2005), deixa clara a dificuldade de reconhecer estas dinâmicas a partir de sua experiência como mulher maltratada e como ativista no mesmo grupo no qual estava o casal: teve uma longa relação de maus-tratos com um militante heroico, sedutor, com carisma. “Conseguia que qualquer crítica interna se convertesse em um ataque à causa, mas como questionar aquele que constantemente nos demonstrava que se deixava a pele no intento, na luta? como questionar aquele que parecia ter a experiência e a lucidez como para guiar o resto? Assim se dava a mudança mortal: aquele que criticava era culpado, a “graça” estava em que chegava a se sentir assim. Devolvia, então, o questionamento ao outro, sempre mais frágil, sempre menos valente, menos heroico, menos comprometido, mais egoísta… Esta pessoa se dedicava a atacar, com essa técnica de atacar sem que o pareça às mulheres. Quem acreditaria (entre elas, eu mesma) que essa pessoa fosse um maltratador?”
Assim, criticar um “bom companheiro” tem com frequência a contrapartida de receber a acusação de estar fazendo o jogo do sistema e de não entender que existem problemáticas mais importantes a enfrentar; e as mulheres que se atreveram a isto são silenciadas, escarnecidas, ignoradas, excluídas, quando não ameaçadas – e acusadas de serem cúmplices dos adversários políticos.
Há poucos anos presenciamos um caso deste tipo na Catalunha. Quando uma ativista explicou sua situação de maus-tratos por parte de seu companheiro, um reconhecido ativista, a resposta generalizada foi de forte ceticismo. Dentro do movimento criaram-se dois blocos de enfrentamento (aqueles que acreditavam nela e apoiavam-na, e aqueles que acreditava nele e apoiavam-no), e talvez pior: algumas das pessoas se posicionaram somente por aquilo que tinham ouvido dizer ou por proximidade política com o/a ativista em questão. Falando com algumas das mulheres que apoiaram a ativista “denunciante”, comentavam a sensação de tristeza, de solidão e de raiva ao ver como as pessoas com as quais haviam compartilhado anos de militância antifascista, anticapitalista, autogestionada, etc., podiam se mostrar tão fechadas e inflexíveis quando os discriminadores eram seus próprios amigos. É óbvio que, especialmente quando conhecemos as pessoas implicadas em uma situação deste tipo, mantenhamos uma certa precaução antes de formarmos uma ideia precisa sobre os fatos. Mas parece-nos que talvez as precauções para o “suposto maltratador” são desmesuradas em comparação com outras situações. De fato, por exemplo, no caso de que alguém torne público ter recebido uma surra por parte de outros por divergências políticas, nada colocará em dúvida que isto ocorreu e a pessoa não precisará explicar milhares de vezes todas as particularidades do evento numa sequência correta e precisa, nem justifica porque o golpe recebido deve ser considerado violento. Ao contrário, no caso em que uma ativista seja maltratada por um ativista se desenvolve um fenômeno curioso: a mulher que se atreve a “denunciar publicamente” antes de poder “demonstrar a culpabilidade” da outra pessoa deve primeiro defender-se da acusação mentirosa, rancorosa e histérica (e ainda assim nem sempre funciona como, por exemplo, nos detalha Rendueles neste mesmo volume). Com frequência, ouvimos comentários do tipo “se fosse verdade e ela não tivesse nada para esconder, viria aqui ao coletivo para explicar exatamente o que passou; melhor, poderiam vir os dois, assim com a confrontação saberíamos quem tem razão”, que mostram um clara insensibilidade pelas dolorosas dinâmicas dos maus-tratos e as dificuldades de superá-las. Ninguém pensaria, por exemplo, em obrigar um companheiro que foi torturado e/ou violado por algum organismo repressor a contar com todos os detalhes do ocorrido na frente de todos os grupos que pedem uma participação numa campanha de denúncia-solidariedade. Esta dupla moral faz supor três coisas: a primeira, que é fácil reconhecer os erros dos “inimigos”, mas que a proteção do “nós” ainda é muito forte; a segunda, que, todavia, as palavras das companheiras têm menos credibilidade que as dos companheiros; e a terceira, que os maus-tratos ainda são percebidos como uma experiência pessoal nos espaços privados e não como parte de um processo político. Quando, ademais, os maus-tratos são do tipo psicológico, a situação se complica ainda mais, pela impossibilidade de “provar” o que aconteceu: não existem marcas físicas e se trata de situações de abuso sutil cujo resumo as esvazia de suas matizes mais cruéis e devastadoras. Assim, como sugere uma companheira da Eskalera Karakola (sem data): “outro salto que tem que ser feito é a atenção à mulher que sofreu agressão […] Primeiro, para entender e aprender como se experimenta a agressão […] e não ter medo do intercâmbio e do fantasma da chacota (no original, morbo). Quando se produzem agressões tem-se que criar grupos de apoio, de intermediação e acompanhamento porque uma vez ocorrida a agressão, quem a sofre continua circulando por aí e tem muito o que digerir.”
Nada de invisibilizar sem saber, sem conhecer como se sente a agredida, como define a violência e atua contra ela, contra a violência do momento e contra a dos momentos posteriores. Se envolver com o ritmo e as exigências de quem a vive. Neste sentido, uma tentativa de encarar esta problemática, reconhecendo que ainda temos muito que aprender (o que é um bom começo), são as recomendações por parte da rede de ativistas People Global Action Europe (PGA, 2005) perante situações de maus-tratos dentro dos coletivos.
Eu, mulher forte: sozinha entre muitas
Outra imagem que deve ser derrubada para uma superação dos maus-tratos dentro dos grupos ativistas é a de que uma mulher, para ser feminista ou para ser não-sexista, deve ter superado todas as limitações de uma cultura heteropatriarcal; que uma mulher libertária tem que se parecer ao estereótipo do homem branco moderno: independente, forte, ativa, segura de si e, além disso, no caso das militantes, isenta de contradições (para um testemunho: Anônima, 2004). Este imaginário leva ativistas maltratadas a ter extremas dificuldades em reconhecer sua dependência de um homem e sua pouca força para sair de uma situação abusiva. Assim, por exemplo, nos mostra o testemunho desta ativista norte-americana: “o incômodo associado a dizer às pessoas que sofreu um abuso, ou como no meu caso, que estiveste em uma relação abusiva, aumenta pelas respostas que recebe das pessoas. Mais que simpatizar, muita gente esteve meio decepcionada comigo. Muitas vezes me disseram que estavam ‘surpreendidos’ de que tinha ‘me enfiado nesta merda’ porque longe de ser uma ‘mulher fraca’ era uma mulher ‘forte’ e ‘política’.” (Nopper, 2005)
De alguma maneira continuamos a nos sentir culpáveis ou inferiores por estar suportando uma situação deste tipo e nos dá muita vergonha admiti-lo, sem contar o medo de fazê-lo. Ao nosso entender, esta característica se deve a uma má compreensão, que queremos denunciar aqui, do que é o feminismo. Ser feminista ou ser uma mulher ativista não implica, afortunadamente, não precisar de apoio de nossas amigas e amigos, nem ser completamente autônoma nem ter que resolver qualquer problema pessoal só individualmente. Mais ainda, desafortunadamente, todas reproduzimos formas de dependência heteropatriarcal e algumas vezes nos comportamos de modo sexista. Reconhecer limitações e contradições, compartilhar nossos maus-tratos no diálogo com umas e outros, pedir ajuda, conselhos, suporte, são práticas feministas que podem nos ajudar a crescer tanto em nível individual como de maneira coletiva. Romper a imagem de mulher forte e dura, aconteça o que acontecer, vivermos nossas múltiplas facetas, performando-nos de maneira diferente segundo as ocasiões e os momentos, são práticas de subversão e desarticulação do heteropatriarcado que quer nos construir como subjetividades individualizadas.
Obviamente, abater as barreiras da solidão (que podem existir mesmo que tenhamos muitas amigas) e do privado não é uma tarefa fácil e, está claro, não incumbe exclusivamente aquelas que estão em situação de abuso, senão que deveria ser um trabalho político e coletivo que nos implique a todas e todos para deixar de ser, como diziam as companheiras de Roma (citação mais acima), cúmplices de nosso silêncio ou cegueira.
As barreiras – como viemos mostrando – são múltiplas e, insistimos, tomam especial força ao continuar considerando os maus-tratos como expressão de relações privadas. Assim, diante de suas manifestações, nos encontramos frequentemente com uma extrema indecisão e incerteza sobre as possíveis ações a realizar e tendemos a colocar a responsabilidade última de resposta a esta situação à mulher, como mostra este extrato de entrevista com Paloma (Chile)[4]: P.: […] Eu fiquei chocada com a atitude de um companheiro que enche a boca com essa história de igualdade social e respeito mútuo. De noite fomos comer pizza e sua esposa […] pediu a pizza e […] não eram as que ele queria […] e disse “mas de onde inventaste de pedir esta porcaria” e não comeu e nos fez perder toda a tarde porque queria outra pizza e tratou-a como um déspota… B.: Ninguém disse nada? P.: Não, quer dizer, alguns de nós meio que dissemos ‘tá’ […] mas não foi algo como ‘escuta, chega de palhaçada’. É que também ela deveria ter feito algo, mas ficou calada e esteve a ponto de chorar, parecia super resignada.
Apesar de algumas interessantes campanhas, geralmente levadas a cabo ou pelo menos iniciadas por coletivos feministas em resposta a situações concretas, os maus-tratos, e em concreto aqueles que acontecem dentro dos espaços do movimento, não foram, todavia, objeto explícito de debate político profundo nos movimentos sociais. Isto nos leva a situações de enorme fragilidade e incerteza que se constituem em dificuldades para reconhecer e atuar. Como temos constatado através de conversas privadas, em diferentes ocasiões em que coletivos de feministas autônomas iniciaram campanhas de respostas perante agressões de gênero por parte de algum ativista, acabaram enfrentando também muitas contradições, dúvidas e, obviamente, uma quantidade de críticas que foram tremendamente dolorosas. A falta de debate sobre o tema, as poucas campanhas realizadas, a forte obstrução a que em geral foram submetidas, e o fato de ter que tentar maneiras de atuar que sejam incisivas mas que não despertem rupturas no movimento não permitiram desenvolver linhas de intervenção. Isso, além de requerer muitas energias, converte às vezes as campanhas em pouco efetivas. Por exemplo, na Catalunha, há poucos anos, uma mulher explicou a situação abusiva que estava vivendo e não teve capacidade de “vesti-la” suficientemente nem de se proteger da situação. Finalmente esta ativista não teve mais remédio além de denunciar o maltratador ao sistema judicial, sendo então acusada de “traidora”. Nos perguntamos: como se podem julgar as atitudes das pessoas por pedir ajuda externa, se não somos capazes de assumir coletivamente a responsabilidade na solução dos problemas?
Algumas reflexões de conclusão
Qual é a finalidade deste escrito? Serve simples-mente para olhar para nós mesmas e para nossas companheiras, para que se acabe com as dinâmicas de maus-tratos e que juntas possamos encurralar aqueles que se creem no direito de realizá-los.
O que esperamos é que gere polêmica, que se considere os maus-tratos como uma questão política sobre a qual devemos nos posicionar e atuar. Gostaríamos que as ativistas que passam por essa experiência não se sintam sós, nem pouco feministas devido ao que estão passando, mas que descubram que é algo que ocorre mais do que se diz e que a solução deve ser coletiva. Por isso, temos que encontrar forças para falar, compartilhar a experiência de maus-tratos com uma amiga; esse é um primeiro passo para sair deles. Por outro lado, esperamos que, quando uma mulher lançar sinais do que está acontecendo, as pessoas que estejam ao seu lado tentem percebê-los e, a partir disso, possam oferecer o apoio necessário, sem que haja resposta de rechaço, de juízo e ataque, mas sim escuta e acolhimento. Mesmo que nos pareça exagerada a expressão “cada homem é um maltratador em potencial”, é importante reivindicar que o imaginário do maltratador com que iniciamos este escrito nos desvia da possibilidade de reconhecer o abuso em todas as suas formas e expressões. Esperamos ainda que se entenda que mesmo que “reconhecidos ativistas” possam ser maltratadores, físicos ou psíquicos, na realidade quem maltrata não é e nem pode ser companheiro.
Ser capaz de ver mais além da imagem, do aparente e desarticular os imaginários de gênero, assim como os que circulam ao redor das “identidades militantes”, é – a nosso entender – uma prática necessária contra as violências de gênero.
Referências
Bibliografia ALFAMA, E. y MIRÓ, N. (coords.) (2005): Dones en moviment. Un anàlisis de gènere de la lluita en defensa de l’Ebre. Valls: Cossetània.
ALLDRED, P. (2002): «Thinking globally, acting locally: women activists’ accounts». Feminist review, 70, pp. 149-163.
ANÓNIMA (2004): «Amor y Respeto, ¿si no qué?». Mujeres Preokupando, 4, pp. 46-48.
APFELBAUM, E. (1989): «Relaciones de dominación y movimientos de liberación. Un análisis del poder entre los grupos». En J. F. Morales y C. Huici (eds.): Lecturas de Psicología Social. Madrid: UNED, pp. 261-297.
ASSEMBLEA DELLE COMPAGNE FEMMINISTE DI ROMA (2000): La cultura dello stupro é viva e lotta insieme a noi. En http://www.tmcrew.org/-sessismo/assfemmroma.html.
BIGLIA, B. (2003): «Modificando dinámicas generizadas. Estrategias propuestas por activistas de Movimientos Sociales mixtos». Athenea Digital, 4. http://antalya.uab.es/athenea/num4/biglia.pdf. (2005): Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. Tesis doctoral.BRAH, A. (2004-1992): «Diferencia, diversidad, diferenciación». En b. hooks, A. Brah y otras (2004): Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 107-136.
COMPAGNI DEL CENTRO SOCIALE «MACCHIA ROSSA» MAGLIANA (2001): Sulla violenza sessuale. Documento del CSOA Macchia Rossa di Roma,http://www.tmcrew.org/sessismo/macchiarossa.html.
ESKALERA KARAKOLA (Desde la) (sin fecha): Espacios Okupados, espacios con cuidado, HYPERLINK “http://www.sindominio.net/karakola/agresion_labo.htm“http://www.sindominio.net/karakola/agresion_labo.htm.
NOPPER, T. K. (2005): Activist Scenes are no Safe space for Women: on abuser of activist women by activist men. En http://www.melbourne.indymedia.org/news/2005/02/87132_comment.php.
PGA (2005): In case of physical or psychological violence. En http://www.- all4all.org/2004/12/1362.shtml.
SUBBUSWAMY, K. y PATEL, R. (2001): «Cultures of domination: Race and gender in radical movements». Em K. Abramsky (ed.) Restructuring and Resistences. Diverse voices of struggle in Western Europe, publicacióndel autor, pp. 541-3.
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA (2001): «Indicadores de riesgo. Ayuda para la mujer maltratada». Despertad!, 8 de noviembre de 2001. También em http://www.watchtower.org/languages/espanol/library/g/2001/11/8/article_02.htm.