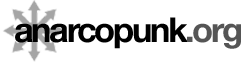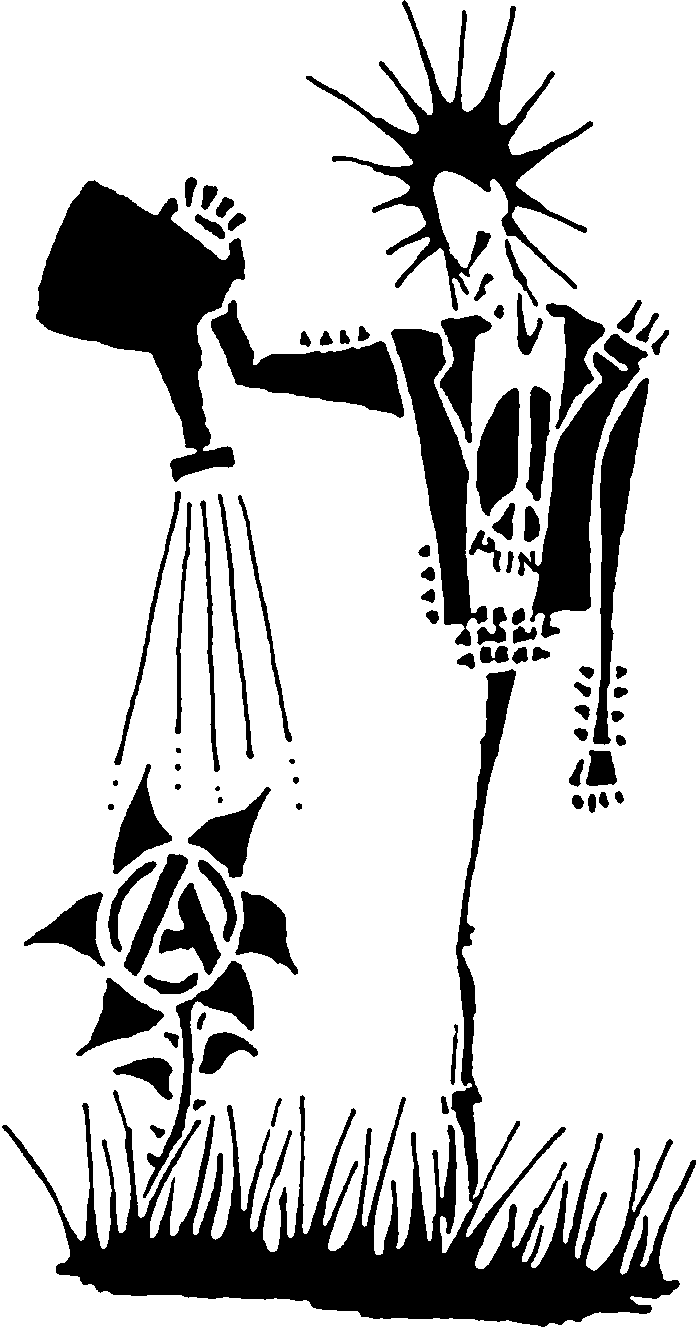A divisão hierárquica do trabalho…
O debate sobre a autogestão move-se antes de tudo do âmbito que lhe é por definição mais próprio: da análise dos mecanismos decisórios coletivos, ou seja, da reflexão sobre como, nas estruturas organizativas hierárquicas, se determina o poder e sobre como, de modo inverso, seja concretamente possível organizar a participação igualitária de todos nos processos decisórios. É uma reflexão sobre os temas da autoridade e da liberdade e é uma reflexão que conduz diretamente aos pontos fundamentais da democracia direta e da divisão do trabalho.
De fato, é fácil nessa ótica (re)descobrir que a distinção fundamental, comum a todas as sociedades de classe, é aquela entre quem detém o poder e quem o suporta, entre quem dirige e quem é dirigido, e que a causa desta dicotomia não é a propriedade privada dos meios de produção, a qual é uma de suas formas jurídico-econômica historicamente determinada. É fácil, portanto, (re)descobrir que a raiz da dominação é a divisão hierárquica do trabalho e que, por isso, a autogestão é um invólucro vazio se não pressupõe a integração (de memória bakininiana e kropotkiniana) do trabalho manual e intelectual, executivo e organizativo.
Sem esta recomposição, a autogestão é impossível a nível empresarial, porque falta a efetiva possibilidade e capacidade de todas/os as/os trabalhadoras/es de operar e decidir com conhecimento de causa (que é o segundo dos dois princípios fundamentais da autogestão, segundo Bourdet). Sem tal recomposição, não pode existir participação igualitária em termos de conhecimento e de responsabilidade e não há, portanto, mas cogestão assimétrica entre dirigentes e subordinadas/os, ainda que sejam todas/os formalmente sócias/os, ou ainda que as/os primeiras/os formalmente “dependentes” das/os segundas/os, segundo a formula jugoslava.
É uma testemunha insuspeitável do regime (Drulóvic ) a nos dizer que, segundo resultados de estudos sociológicos, os conflitos frequentes entre direção e órgãos representativos dos trabalhadores exprimem um “agudo protagonismo, uma verdadeira luta pela partilha do poder e da autoridade” e uma das causas seria, vejam bem, a extravagante pretensão dos trabalhadores de “ingerência no campo da direção” por uma “concepção primitiva segundo a qual a autogestão suprimiria a divisão do trabalho”. Com mais razão, a integração deve ser alargada a toda a sociedade, porque a divisão hierárquica do trabalho social não é um fenômeno que se possa reduzir apenas ao âmbito empresarial, nem apenas ao econômico, mas refere-se a todas as funções sociais. E mesmo permanecendo no âmbito econômico, é preciso reconhecer na exploração não só o aspecto quantitativo, mas também o qualitativo, que consiste em reservar para uma minoria os trabalhos mais gratificantes, enquanto que à maioria cabem os trabalhos mais ingratos, cansativos e frustrantes. O limpador de esgoto continua limpador de esgoto ainda que em autogestão. O urbanista continua urbanista ainda que em autogestão. Podemos bem imaginar um coletivo autogerido de carregadores e um coletivo autogerido de médicos; podemos até imaginar (é uma abstração difícil, admito) que estes trocam o seu trabalho em pé de igualdade: uma hora do trabalho de um é paga como uma hora do trabalho do outro. Mas a troca permanecerá desigual, a exploração qualitativa permanece. Isto é mascarado pelo fato que, normalmente – e não por acaso -, a isto se sobrepõe a exploração quantitativa. Mas quando a norma paradoxal, segundo a qual aos trabalhos mais degradáveis correspondem os rendimentos mais baixos, é contraria, a dimensão qualitativa da exploração torna-se evidente. Por exemplo, hoje um varredor ganha mais que um professor de liceu , mas não resulta daqui qualquer tendência por parte dos professores de quererem ser contratados pela Limpeza Urbana….
…e a sua recomposição igualitária
A divisão hierárquica do trabalho social está, portanto, carregada de significados não igualitários: exploração, privilégios e, sobretudo, poder. As ideologias do poder (capitalistas ou tecnoburocráticas que sejam) justificam a hierarquia com as necessidades organizativas das sociedades complexas. Baralham as cartas, porque misturam falsamente duas coisas que não estão necessariamente ligadas. É inegável que, em estruturas socioeconômicas mais articuladas que uma comunidade de caçadores-coletores, a divisão social e técnica do trabalho não é, em certa medida, eliminável. É inegável que estas estruturas, da empresa à comunidade local e por aí a fora até aos sistemas sociais mais amplos, se devam articular por funções. Mas não é de todo necessário que as funções se tornem papéis fixos: a rotatividade, por exemplo, permite conciliar a divisão com a igualdade. Para além disso, certas funções podem muito bem tornar-se coletivas, outras ainda podem ser feitas com mandato revogável, outras, por fim, desaparecerão totalmente. Porque só são uteis e necessárias ao sistema hierárquico, que as gera em grande quantidade e continuamente para se conservar e se justificar.
O que se opõe, por exemplo, que num hospital todas/os as/os trabalhadoras/es desempenhem, em rotação, funções manuais e intelectuais (que todas/os sejam, em diferentes períodos do dia, da semana ou do ano, medicas/os-efermeiras/os-auxiliares), que a direção seja uma função coletiva, com tarefas de administração e de coordenação interna e externa atribuídas temporariamente? Nenhum motivo real, mas apenas falsos motivos de racionalidade interna a lógica do poder, ou seja, uma escassez relativa de competência intelectual, deliberada, criada e mantida artificialmente para justificar o monopólio de classe do conhecimento e, portanto, a hierarquia.
A objeção de que seria um desperdício subutilizar os cérebros dos intelectuais, obrigando-os a dedicar uma parte do seu tempo aos trabalhos manuais é de uma imbecilidade repugnante. E que dizer do desperdício enorme de criatividade, inteligência e imaginação de nove em cada dez pessoas, mutiladas na sua habilidade e condenadas a uma rotina estupida e desanimadora nas fábricas, nos escritórios, nos trabalhos domésticos, para que só uma pessoa possa crescer, pensar e inventar? E por que não nos perguntamos também o quanto a própria inteligência daquela pessoa não empobreceu devido à privação dos estímulos das atividades manuais, ou seja, do contato direto com a realidade material?
Nessa perspectiva, o recente fenômeno de escolarização em massa adquire um significado particular, com as suas reivindicações de direito ao estudo, com seus empurrões, um pouco ambiciosos, um pouco demagógicos, às barreiras econômicas e meritocraticas colocadas em defesa do saber privilegiado. Para além das aspirações individuais a uma promoção social por meio do diploma e da licenciatura, como fenômeno global, como soma objetiva das motivações individuais, trata-se de uma procura generalizada de trabalho intelectual, uma procura que, justamente por ser generalizada, não pode ser satisfeita a não ser numa lógica de negação da pirâmide social e de distribuição igualitária entre todas/os, seja do trabalho manual, seja do intelectual. E talvez não seja uma coincidência fortuita se a autogestão fez uma irrupção estrondosa, como reivindicação e como prática, justamente em maio de 68, uma explosão popular desencadeada pelos estudantes parisienses…
Delegação de poder…
A integração entre trabalho manual e intelectual determina uma condição de igualdade nas efetivas possibilidades e capacidades decisórias. Todavia, não esgota, mas só introduz, o discurso sobre democracia direta, assim como a divisão entre trabalho manual e intelectual não esgota o discurso sobre o poder. De fato, nem todas/os as/os trabalhadoras/es intelectuais, bem pelo contrário, só uma minoria entre elas/es, então integradas/os na classe dominante. Nem as/os cientistas, por exemplo, ou as/os médicas/os, as/os professoras/es, ou as/os engenheiras/os exercem, como tais, funções de poder, mas somente se e enquanto ocupam posições de controle e direção social, se e enquanto desempenham funções de “heterogestão”, isto é, de gestão sobre outras pessoas.
Qualquer que seja a sua origem aparente e a sua justificação (a propriedade ou a capacidade organizativa, o mérito ou a competência), qualquer que seja o modo pelo qual foi conferido ou legitimado (os mecanismos mercantis ou a seleção meritocrática, a investidura do alto ou a delegação “democrática” das bases), o poder dos dirigentes é sempre obtido confiscando-o à sociedade, isto é, negando de fato e de direito a todas/os as/os outras/os a faculdade de se autodeterminarem individual e coletivamente.
A delegação de poder que se exprime na democracia representativa, ou democracia indireta, é talvez a engenhoca mais sutilmente mistificadora de legislação da hierarquia. Portanto, ameaça ser um cavalo de Tróia do poder na prática e no pensamento autogetionário, como demonstram as experiências históricas e contemporâneas, da Espanha à Jugoslávia, do movimento cooperativo às burocracias sindicais. Apresentada como uma técnica organizativa, ela é, pelo contrário, um modo organizativo funcional do poder hierárquico, incompatível com a autogestão.
Salienta-se que não faremos aqui qualquer consideração sobre o fato de que, numa democracia parlamentar, as eleições não são um modo para nomear os dirigentes políticos, mas só uma exígua parte da representação formal do poder político, e omitimos a ironia fácil sobre a natureza mistificada da “escolha” eleitoral. O próprio socialista Giorgio Ruffolo , atual candidato às eleições europeias, definiu, há três anos, o mecanismo de votação como um “aplausómetro” (um aplausómetro viciado, acrescentamos, pelas sofisticadas técnicas atuais de manipulação da opinião pública). O que aqui nos interessa salientar é que, mesmo no caso abstrato de que todas as funções de direção social fossem elegíveis, da mesma forma os dirigentes eleitos se constituiriam em classe dominante, pela lógica objetiva da delegação de poder.
A astucia de alargar ao âmbito empresarial algumas medidas de democracia representativa (em forma de cogestão ou de “autogestão” tecnocrática) é uma tentativa até bastante transparente de refundar o consenso à alienação produtivista, perante a falência da ideologia capitalista. Mesmo que a democracia representativa já dê sinais de desgaste no campo político, e cada vez mais dificilmente consiga mascarar a sua verdadeira natureza oligárquica, a renovação no quadro da economia pode talvez ainda exercer alguma atração, porque baseada em valores culturais depositados no inconsciente coletivo, ainda que em crise, enquanto a recusa da delegação é ainda um fenômeno de “efervescência” social relativamente novo.
…e democracia direta
Se a delegação de poder abre uma fratura no corpo social, entre “gestores” e “geridos”, a autogestão só pode reconhecer-se e realizar-se na democracia direta, isto é, só com a condição do poder permanecer uma função coletiva, que nunca se separa da coletividade como instância superior, nem mesmo em funções elegíveis. Democracia direta não significa, de maneira redutora, democracia de assembleias. Mesmo sendo a assembleia um órgão fundamental nas articulações futuras, a democracia direta recorre necessariamente a outras formulas como o mandato revogável, que não é delegação de poder. Existe delegação de poder quando se habilita alguém a tomar decisões imperativas sobre a coletividade, em nome e por conta desta, relativamente há uma vasta gama de questões e com ampla discricionariedade. Se, pelo contrário, o mandato é específico e temporário, com restritas e definidas margens de discricionariedade, e sobretudo se é revogável a qualquer momento pelos mandantes, ou seja, pela coletividade que o expressou, então ele não se substitui à vontade coletiva, nem a pode interpretar livremente (velho truque da democracia representativa), porque as suas funções são submetidas a uma verificação constante.
Assembleia soberana, mandatos revogáveis e, por fim, rotatividade constante (a intervalos mais ou menos longos, segundo a sua natureza) de todas as funções permanentes de coordenação, de todas as funções “dirigentes” não exercidas coletivamente, assim se pode, em grandes linhas, definir a democracia direta. E assim se exprimiu a democracia popular quando, de forma episódica e temporária, pode manifestar-se sem excessivos condicionamentos objetivos e subjetivos. Assim foram organizadas as coletividade libertárias espanholas. Assim estão se organizando numerosos kibutzim israelitas, no quais, segundo Rosner , a cada ano aproximadamente 50% dos membros participam rotativamente de comitês ou em funções diretivas. E a revogabilidade do mandato não remota à comuna de Paris? E não encontramos o mandato revogável e a assembleia soberana como reivindicação e como práxis nas lutas operárias dos últimos dez anos? A democracia direta já é prática social, ainda que episódica e fragmentada.
O problema da dimensão
Os que querem reduzir a autogestão à marginalidade, ou negar-lhe completamente uma oportunidade, dizem que a democracia direta só pode aplicar-se a formas organizativas de pequenas dimensões. Consideremos, então, a questão da dimensão. Paradoxalmente, também estou convencido de que a grande dimensão é a dimensão do poder e a pequena dimensão é a da democracia direta. Mas tiro daqui conclusões diferentes: as unidade associativas elementares (produtivas, territoriais, etc.) podem e devem ser pequenas e, entre elas, deve ser decida uma trama de relações horizontais. Isto é, devem ser rejeitadas as unidades grandes e o próprio conceito-mito nefasto da Unidade com maiúscula. As unidades pequenas, por sua vez, não devem ser os tijolos de um edifício piramidal, mas os nós de uma rede de conexões igualitárias de tipo federativo, que vai do simples ao complexo, e não da base pro vértice.
A grande empresa, as megalópoles, o Estado, devem ser rejeitados e desagregados porque o “grande” segrega poder dentro e fora de si. Os grandes agregados econômicos e políticos, as grandes instituições sociais, são, justamente, o campo onde se afirma e se exerce o poder dos “no vos patrões”: é ai que a tecnoburocracia encontra o seu espaço vital e as suas justificações funcionais, seja no sistema tardo-capitalista, seja no pós-capitalista.
Existem bastantes elementos experimentais e reflexões científicas para sabermos que não se podem superar certos limites dimensionais, se quer-se salvaguardar a comunicação direta, que é o princípio primeiro da democracia direta, exemplificada (ainda que não esgotada) na participação ativa na assembleia. É inimaginável uma assembleia decisória de milhares de pessoas. Essa só poderá sancionar a aprovação ou rejeição de propostas simples, isto é, previamente simplificadas. Esta, ademais, apresenta o risco de responder, de modo verosímil, mais às solicitações emocionais do que às racionais, segundo a lei da psicologia de massas.
Por outro lado, se é verdade que á comunicação direta podem juntar-se outras formas de comunicação horizontal (permitidas por um uso apropriado dos meios eletrônicos e televisivos, com sugerem por exemplo Prandstraller e Flecchia), é também verdade que estas não devem substituí-la, mas apenas adicionarem-se, sobretudo nas articulações federais, porque podem ser mais instrumente de controle e/ou sondagem do que de formação e de explicação da vontade decisória. Então, o primeiro âmbito fundamental da autodeterminação coletiva não pode ser outro que a unidade associativa elementar – como o primeiro e fundamental âmbito da liberdade só pode ser o indivíduo – e esta unidade deve ser “à medida da assembleia”. Portanto, a abordagem autogestionária ao problema da dimensão deve ser posta, de forma desinibida, na linha de pensamento sintetizado pela feliz expressão schumacheriana “pequeno é belo”. Trata-se de inverter a ideia lógica, que parte do existente e de suas tendenciais “objetivas” ao gigantismo econômico, político e tecnológico, para daqui provar a “necessidade” da grande dimensão. Recair naquela lógica seria desastroso para a teoria e para a prática autogestionária, porque chegaria à demonstração da impossibilidade da autogestão generalizada. Seria também errado, porque, na verdade, não são a tecnologia, não são a economia, a racionalidade, que impõem as macroestruturas e as macroinstituições, mas uma tecnologia, uma economia, uma racionalidade, determinadas pela lógica do poder, ainda que, por sua vez, por um efeito retorno, acabem por se tornar determinantes, criando um círculo diabólico, no qual cada elemento se alimenta mutualmente de motivações objetivas e ideológicas.
Vice-versa, a autogestão deve repensar a economia, a tecnologia, a estrutura territorial, etc., a partir das suas exigências, aplicando a sua racionalidade. Pode ser que isso comporte algumas reduções de eficiência, mas é um custo que, revelando-se necessário, deveria ser aceito. Contudo, está ainda por demonstrar que os maiores custos da pequena dimensão, mesmo segundo uma concepção contabilística de eficiência técnica e econômica, sejam superiores aos seus benefícios.
Pelo contrário, existe toda uma nova corrente de pensamento cientifico que está (re)descobrindo algumas “economia de escala” de sinal oposto àquelas até agora brandidas como justificação para o gigantismo. Como para muitos outros casos, também aqui se pode partir de uma definição aparentemente incontestável para extrair consequências opostas àquelas dadas por certas e culturalmente dominantes. Temos, de fato, economias de escala quando nos aproximamos da dimensão ótima e, de modo inverso, temos deseconomias crescentes quanto mais no afastamos desse optimum. Mas ninguém demonstrou, nem pode demonstrar, que a dimensão ótima tende para infinito. Pelo contrário, há elementos suficientes para acreditar que, para além de determinados limites dimensionais (que não são ainda os que nós definiremos como pequenos, mas digamos, médios), temos fenômenos de ineficiência econômica e de congestão incompatíveis com qualquer sistema, criam-se problemas de direção e de controle social tão graves que anulam, mesmo na lógica dos capitalistas e dos tecnocratas, as vantagens da centralização.
Um recente estudo francês de informática aplicada à gestão empresarial (à heterogestão, não à autogestão) sugere que, para um fluxo ótimo ascendente/descendente de informações, o limite dimensional não deveria superar os quinhentos funcionários. Na Itália, data do último ano a descoberta da pequena empresa e das suas virtudes: a pequena empresa é manejável, dinâmica, versátil, sensível, e eficiente… De sinal de atraso, de obstáculo ao desenvolvimento, passou a ser, graças aos trabalhos de jornalistas e estudiosos “reciclados” ao pequeno, a espinha dorsal da economia e também seu elemento impulsionador. Face à elefantíase da grande empresa à italiana (estatizada, irizzata , imizzata , assistida, esclerosada, sonolenta, ministerial), é premiado o empreendedorismo ambicioso de milhares de gestores da exploração em pequena escala, empreendedorismo à italiana este também, naturalmente feito só de fantasia, mas também de trabalho negro, de evasão fiscal, de banditismo ecológico, um empreendedorismo que explora e, por sua vez, numa relação ambivalente, é explorado pela grande empresa pública e privada.
Pequeno é belo
Começa portanto a abrir-se (finalmente!) uma brecha no muro da ideologia dominante do “grande é belo” e um número crescente de estudiosos contribui para demonstrar que é possível uma tecnologia diferente, de pequena escala, que seja instrumento do homem e não da qual o homem seja instrumento; que é possível dar à crise energética outras respostas, diferentes das centrais nucleares e da pilhagem dos recursos naturais, e que, olhem só, as fontes energéticas renováveis são melhor utilizáveis em pequenas dimensões; que a poluição só se põe, de forma drástica e caríssima, como fenômeno de grande escala; que a comunicação interpessoal, que é uma função social da produção igualmente importante, não é mais rica na grande dimensão, mas mais pobre (e portanto a pobreza de relações não é apenas uma característica do “idiotismo rural”, mas também de um novo “idiotismo urbano”); que, na sua complexidade, as grandes estruturas sociais são máquinas com rendimento decrescente em relação aos seus “consumos”, com crescimento da dimensão…
E assim por diante. O campo das descobertas sobre a irracionalidade das grandes dimensões, aberto por uma “simples” inversão de perspectiva, ainda é muito fecundo e está apenas em início de exploração. Esta corrente de pensamento, nas suas expressões mais radicais, é antitética à ideologia cientifica do poder. Nas suas expressões mais atenuadas, todavia, ela pode ser funcional ao poder, como uma vacina é uma utilíssima forma atenuada da doença. Com efeito, são os próprios proprietários da economia e do Estado que, desde há alguns anos, multiplicam as experiências e as propostas de descentralização, de desagregação (não separação) do poder, na fábrica e na sociedade. É uma confissão de falência, mas também é uma tentativa de refutar uma diferente centralização do poder, descongestionando o centro, delegando o que este não consegue controlar nas zonas periféricas do poder, controle decrescente do centro à periferia.
Essa descentralização, e a filosofia que a sustenta e a ciência que lhe empresta os instrumentos, não é o oposto da concentração, mas outra face necessária da concentração. Essa descentralização não tem nada a ver com a trama da organização federativa, na qual supera o próprio conceito de centro e periferia, porque cada ponto está no centro das relações que o concernem. A metáfora geométrica de círculo, dito por inciso, tem a mesma validade hierárquica da metáfora-pirâmide: é a sua versão a duas dimensões e não por acaso lembra imediatamente a estrutura hierárquica do território, onde a capital ocupa o lugar do capital, para usar um divertido jogo de palavras.
Enquanto que, na descentralização autoritária, o centro decide tudo aquilo que pode e delega aquilo que lhe escapa, ou corre o risco de escapar, na descentralização federativa é a unidade associativa que decide por si tudo aquilo que é da sua competência e, junto com as outras unidades, aquilo que é de competência comum, mediante acordos e organismos de coordenação, temporários ou permanentes. Não é puro jogo verbal, mas uma verdadeira inversão lógica. Trata-se, por exemplo, de considerar os comités de bairro como descentralização da administração municipal e essa como descentralização do estado ou, ao contrário, de considerar a cidade como uma federação de bairros (como era um pouco a comuna medieval, sem nenhum sentimento nostálgico) e esses, por sua vez, como federações de unidades agregadoras menores. Mesmo as empresas que superam certas dimensões podem conceber-se, nessa ótica, como uma federação de seções. O que é justamente o que pressupõe, nem que seja ainda numa ótica de descentralização hierárquica, a estrutura autogestionária jugoslava para as grandes empresas e é também a lógica não expressa que está por detrás dos conselhos de fábricas, constituídos por delegados de seções. Não há, portanto, nenhum obstáculo objetivo à pequena dimensão. Essa é, ademais, perfeitamente compatível com uma rica e variada gama de inter-relações humanas, porque com sua potencialidade desagregadora do poder coexiste uma potencialidade reagregadora da sociedade.
Iguais mas diversos
Dissemos que o pequeno é necessário, dissemos que o pequeno é possível, dissemos, enfim, que o pequeno é belo. Essa última afirmação conduz-nos a um outro nó problemático: a diversidade. O pequeno, com efeito, é belo também, e sobretudo talvez, porque o pequeno é diverso. O discurso sobre igualdade não pode ser separado daquele sobre diversidade.
Longe de serem contraditórios, os conceitos de igualdade e diversidade são complementares: paradoxalmente, é de fato a desigualdade que leva à uniformidade, ao nivelamento, à massificação. Ainda que as ideologias da desigualdade afirmem fundar-se sobre diversidades “naturais”, a única diversidade que reconhecem é a inerente à divisão hierárquica do trabalho social, a única diversidade que legitimam é a desigualdade de papéis.
O podes, pela sua natureza, nega tudo que se lhe opõe, e a diversidade opõe-se lhe enquanto ingovernável: nenhum poder é suficientemente elástico para gerir o infinitamente diverso. Só o diverso pode gerir-se por si. O diverso proclama autogestão, o diverso é a negação viva da heterogestão. O poder está, portanto, em guerra continua – guerra de morte – com o diverso, ele deve destruir a diversidade, ou pelo menos canaliza-la na desigualdade. Em particular, o poder tendencialmente totalitário dos nossos dias é inimigo implacável da diversidade. Para a lógica tecnocrática e burocrática, o mundo ideal é um mundo estandardizado, cuja “qualidade” seja toda reduzível a categorias e quantidades computadorizadas, planificáveis, previsíveis, controláveis, registáveis, mecanografáveis, adicionáveis, diminuíveis, multiplicáveis, divisíveis… Para a lógica capitalista clássica, o mundo ideal é um mercado mundial, no qual tudo e todos são mercadorias. Para a hibrida lógica tardo-capitalista, o mundo ideal é um meio termo entre o ideal capitalista e o ideal tecnoburocrático.
Para o poder de hoje, do Leste tecnoburocrático ao Oeste tardo-capitalista, como também em grande parte do terceiro mundo que imita ambos (no continente africano, por exemplo, as diferenças tribais e étnicas combatem-se, até impiedosamente, para construir unidades “nacionais” artificiais), a diversidade ainda é mais inaceitável do que para qualquer outra forma de poder historicamente conhecida. Como um rolo compressor, o poder tende a nivelar as diferenças culturais, a destruir as etnias, as línguas, os costumes locais, regionais, nacionais, para além de negar, como todos os poderes anteriores, as diversidades individuais (reduzidas a desigualdade, como se dizia, ou mortificadas). Como um bulldozer social, o poder, o poder sonha em aplanar as colinas, encher os vales, endireitar os rios, criar uma planície a perder de vista, onde se ergam somente, a intervalos regulares, as torres de controle e os esquálidos castelos do seu privilegio.
A diversidade foi considerada até agora, no melhor dos casos, como um dado a respeitar, um objeto a tolerar